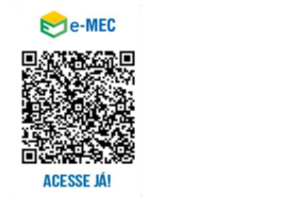As cidades e os eventos climáticos extremos: estamos preparados?
Docentes da Unifesp analisam as ações necessárias para mitigar os impactos e fortalecer a resiliência climática dos municípios brasileiros
- Detalhes
- Categoria: Destaques
- Acessos: 1229
Temporais com rajadas de vento superiores a 100 km/h – os mais fortes registrados em décadas. Chuvas intensas, com o terceiro maior volume de água já medido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde 1961. O resultado: milhares de residências sem energia, alagamentos, desabamentos e quedas de centenas de árvores. Episódios extremos relacionados ao clima, como esses ocorridos nos últimos anos na cidade de São Paulo, estão se tornando, comprovadamente, cada vez mais frequentes.

As águas das chuvas não inflitram no solo, impermeabilizado pelo asfalto e concreto, causando alagamentos
Informações do caderno técnico 2024: o ano mais quente da história, primeiro documento da série Brasil em Transformação: o impacto da crise climática, demonstram que o aumento das temperaturas globais e os padrões climáticos extremos têm agravado fenômenos como enchentes e tempestades. Produzido pela Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, em parceria com o Programa Maré de Ciência, da Unifesp, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Unesco e Fundação Grupo Boticário, o material foi coordenado por Aline Sbizera Martinez e Ronaldo Christofoletti, professor do Departamento de Ciências do Mar do Instituto do Mar (IMar/Unifesp) - Campus Baixada Santista.
Com base nos dados públicos dos últimos 32 anos, extraídos do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o documento revela um cenário alarmante: entre 1991 e 2023, foram registrados 64.280 desastres climáticos em municípios brasileiros. Em apenas 4 anos (2020-2023), o número médio anual de registros (4.077 registros/ano) já é quase o dobro da média anual das últimas duas décadas combinadas (2.073 registros/ano no período de 2000 a 2019).
De 1991 a 2023, quase 220 milhões de pessoas foram afetadas por desastres climáticos no Brasil, incluindo mortos, desalojados, desabrigados e enfermos. Esse número é maior do que a população atual do país, já que uma mesma pessoa pode ter sido afetada mais de uma vez. Considerando somente os últimos 4 anos (2020-2023), quase 78 milhões de pessoas foram afetadas, o que representa 70% do total registrado na década anterior (2010-2019: cerca de 115 milhões) e 180 vezes maior que o número da década de 1990 (1991-1999: menos de 500 mil).
Também entre 1991 e 2023, foram contabilizadas 4.923 mortes no país decorrentes dos desastres climáticos. Nos últimos 4 anos (2020-2023), foram registradas 1.034 mortes, o que corresponde a 50% do total de óbitos da década anterior (2.157 mortes) e 4 vezes maior que o número da década de 1990 (249 mortes).
Diante desse cenário preocupante, torna-se urgente a adoção de medidas para mitigar os impactos e fortalecer a resiliência climática das comunidades mais vulneráveis. Mas o que as cidades brasileiras têm feito – ou deixado de fazer – para se preparar? E, mais importante, quais ações de enfrentamento devem ser tomadas daqui para frente?
É preciso saber planejar
Adaptação climática é definida pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) como o processo de ajuste ao clima real ou esperado e seus efeitos. Nesse sentido, planejamento urbano e gestão ambiental são fundamentais para garantir a segurança e a qualidade de vida das populações, principalmente daquelas que vivem em áreas de risco, perante o aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos.
De acordo com Ricardo Sartorello, professor do curso de Geografia do Instituto das Cidades (IC/Unifesp) - Campus Zona Leste, as cidades brasileiras, especialmente as situadas em regiões tropicais, historicamente enfrentam chuvas intensas, deslizamentos e secas prolongadas. No entanto, as mudanças climáticas têm aumentado tanto a frequência quanto a intensidade desses fenômenos, agravando os riscos para as áreas urbanas mais vulneráveis.
Um dos principais problemas apontados por ele é a ocupação desordenada do solo. Devido ao alto custo da moradia em áreas planejadas e à falta de oferta habitacional adequada por parte do poder público, muitas famílias acabam se instalando em encostas de morros ou planícies inundáveis, locais sujeitos a desastres naturais. “Quando ocorrem eventos extremos, essas populações estão expostas a riscos muitos maiores devido às características físicas desses locais”, explica o docente.
Além disso, a falta de planejamento urbano adequado resulta em problemas estruturais, como os sistemas deficientes de drenagem em grandes cidades, como São Paulo. Segundo o docente, algumas regiões da cidade não deveriam ter sido urbanizadas, pois os rios precisam de espaço para transbordar naturalmente em períodos de chuva. Com a crescente impermeabilização do solo por meio de asfalto e concreto, a água pluvial não consegue infiltrar nele, indo diretamente para os sistemas de drenagem e rios, que acabam transbordando e causando alagamentos.
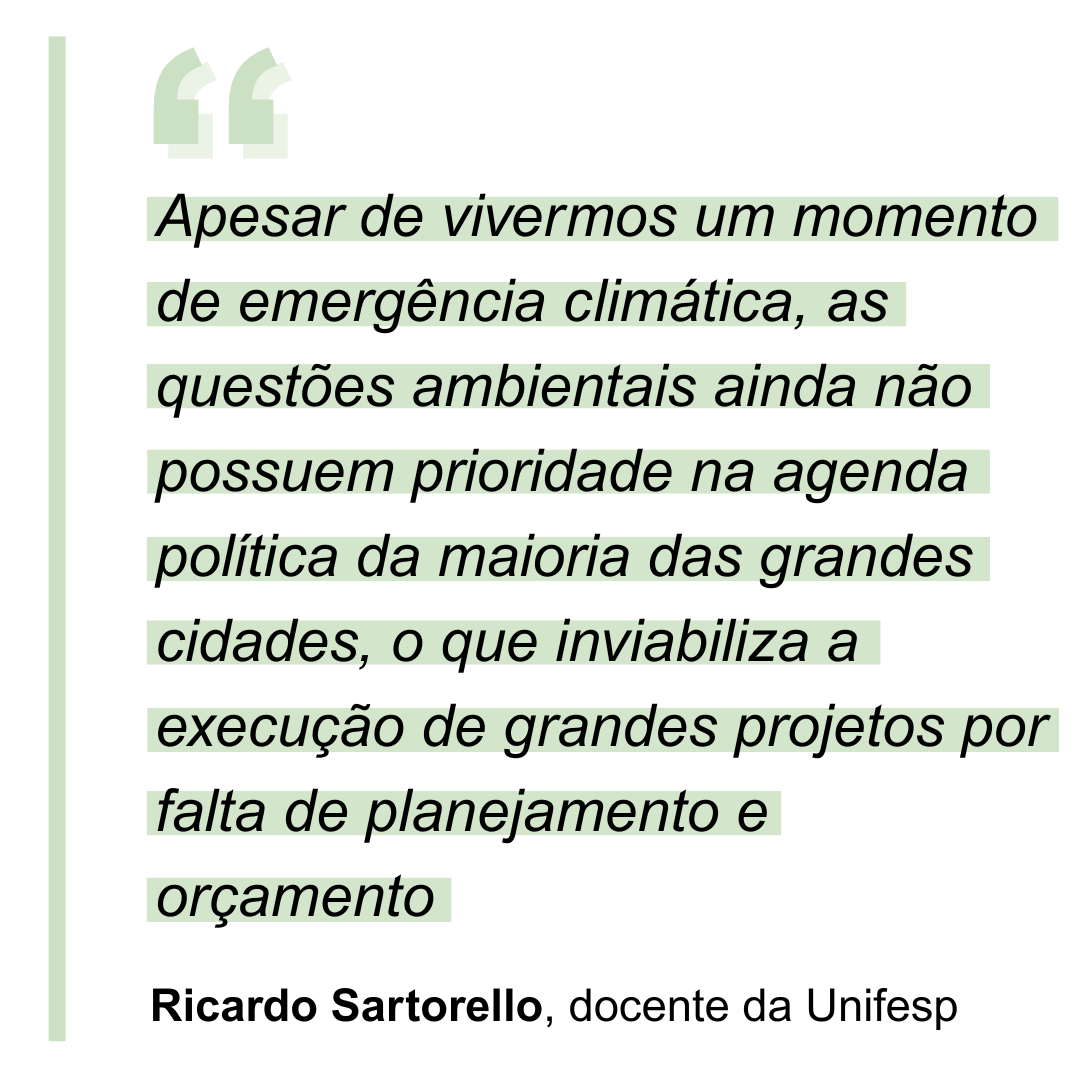
Em face dessa situação, tornam-se necessárias medidas como a ampliação de áreas verdes, a modernização dos sistemas de drenagem e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à habitação segura e sustentável. No entanto, segundo Sartorello, essas ações são complexas e demandam altos investimentos. “Apesar de vivermos um momento de emergência climática, as questões ambientais ainda não possuem prioridade na agenda política da maioria das grandes cidades, o que inviabiliza a execução de grandes projetos por falta de planejamento e orçamento”, alerta.
E essa falta de prioridade se reflete nos investimentos: historicamente, os recursos destinados a ações emergenciais superam aqueles voltados à prevenção de desastres. O caderno técnico citado na apresentação deste texto aponta que, em 2023, por exemplo, foram gastos R$1,24 bilhão (0,01% do PIB) em ações emergenciais, enquanto apenas R$0,09 bilhão (0,0009% do PIB) foram investidos em prevenção.
Aline Cavalari, professora no curso de Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF/Unifesp) - Campus Diadema, destaca a importância do planejamento quando o assunto é a arborização urbana. A escolha das espécies a serem plantadas deve seguir critérios técnicos, considerando fatores como altura na fase adulta, profundidade das raízes e projeção da copa. Já nas árvores que já existem é importante o manejo adequado, com abertura de calçadas para liberar o crescimento das raízes e podas corretas.
A arborização deve ser planejada de forma integrada, levando em conta a convivência com a infraestrutura urbana, incluindo fiação elétrica e calçadas estreitas. "Portanto, é fundamental que as secretarias municipais trabalhem de forma integrada entre si e com as concessionárias e empresas responsáveis pelo manejo das vias urbanas para evitar podas inadequadas, que podem comprometer a segurança das árvores e, por consequência, aumentam o risco de queda da árvore", complementa Cavalari.
O ano mais quente de históriaEm janeiro deste ano, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgou que 2024 foi o ano mais quente da história desde o período pré-industrial (1850-1900). Pela primeira vez, a média global da temperatura do ar excedeu a marca de 1,55°C durante 12 meses consecutivos. Este limite, considerado crítico pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), estava previsto para ser atingido apenas no final desta década, mas foi antecipado pelos rápidos impactos das mudanças climáticas. Firmado em 2015, o Acordo de Paris marca o compromisso de 196 países com o planeta: barrar a elevação da temperatura média global e reduzir os impactos da crise climática. O objetivo do acordo é manter o aquecimento da Terra abaixo dos 2ºC, preferencialmente, no limite máximo de 1,5ºC. |
Depois da queda, vem a falta de energia
A queda de árvores tem se tornado um problema crescente, impactando diretamente a segurança da população e a infraestrutura elétrica dos centros urbanos. De acordo com Aline Cavalari, um dos principais fatores que contribuem para essas quedas é a falta de manejo adequado das árvores, incluindo podas inadequadas, obstrução do colo das árvores pelas calçadas e a escolha errada das espécies para o ambiente urbano. "A cidade de São Paulo possui árvores muito antigas que precisam de um olhar cuidadoso, pois o planejamento inadequado e a falta de manutenção adequada aumentam os riscos", destaca a professora.

Falhas em galhos, solo compactado, cavidades no tronco e a madeira em decomposição são fatores para quedas de árvores recorrentes
Um estudo conduzido na capital paulista pela Unifesp revelou que 46% das quedas estavam relacionadas a falhas em galhos. Solo compactado, podas de raiz, cavidades no tronco e a madeira em decomposição também foram fatores que comprometeram a saúde das árvores, aumentando o risco de queda. O trabalho, realizado por estudantes do curso de especialização em Arborização Urbana da universidade [leia mais sobre o curso abaixo] em parceria com a Subprefeitura da Sé, evidenciou que 456 árvores caíram apenas no centro da cidade durante o período analisado (de 2016 a 2018).
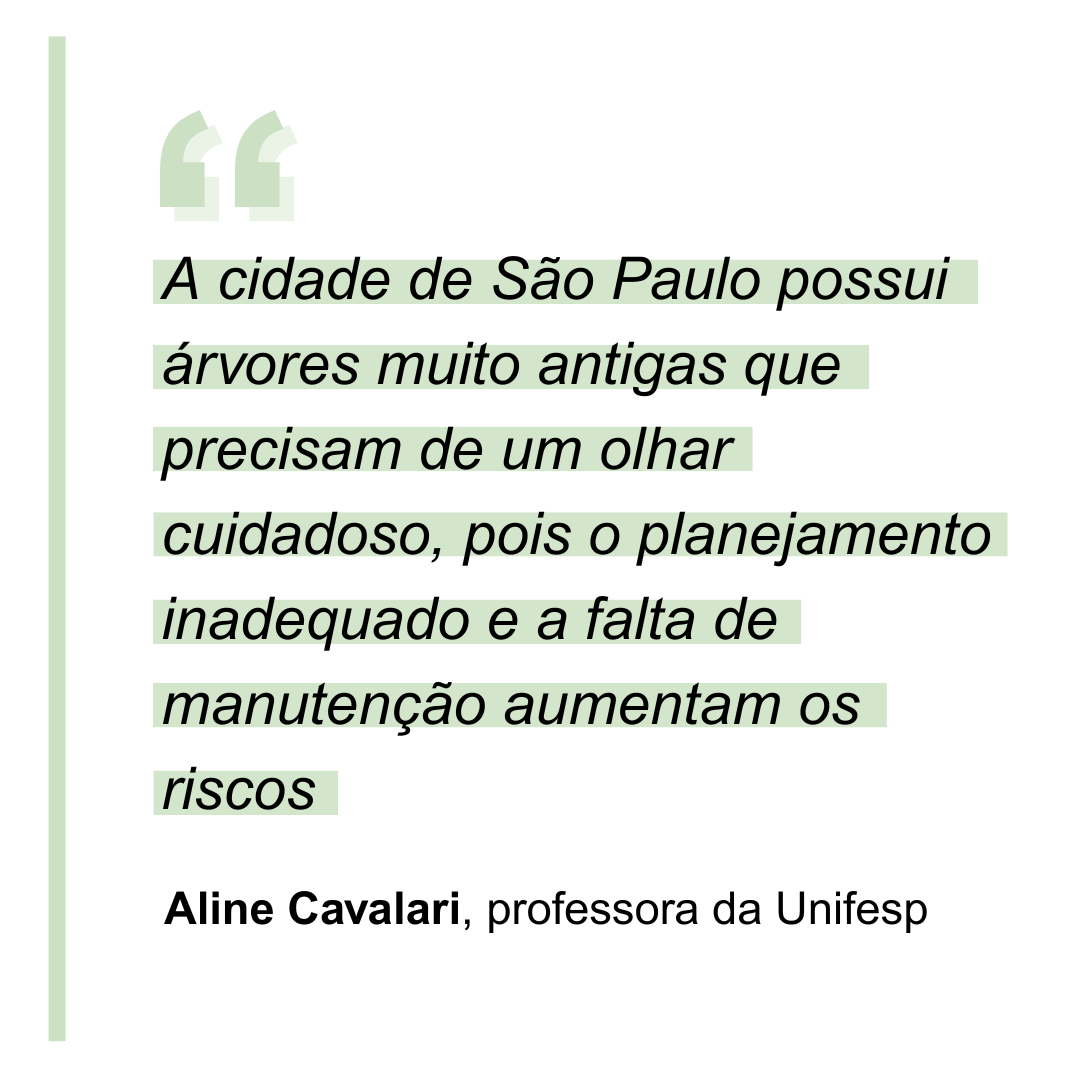
Ricardo Sartorello, professor no Instituto das Cidades (IC/Unifesp) - Campus Zona Leste, acrescenta que a arborização urbana muitas vezes não é planejada adequadamente, o que resulta no plantio de árvores em espaços inadequados, como calçadas estreitas e canteiros reduzidos. "Historicamente, muitas espécies inadequadas foram utilizadas na arborização urbana, como figueiras e mangueiras, que crescem demasiadamente, e espécies exóticas, como as tipuanas, que não são adaptadas ao clima tropical e ao excesso de umidade", explica.
Ele também alerta que a falta de avaliação fitossanitária frequente e a ausência de poda e remoção de árvores doentes são fatores críticos que aumentam os riscos de queda, principalmente em eventos extremos, que tendem a se intensificar com as mudanças climáticas.
Além dos danos materiais e riscos à população, a queda de árvores representa uma ameaça à rede elétrica. Galhos e troncos que atingem os fios podem interromper o fornecimento de energia e serviços de internet. Uma solução apontada por Sartorello para mitigar esses impactos é a substituição da fiação aérea por fiação subterrânea, o que reduz consideravelmente os riscos de interrupção dos sistemas elétricos e evita a eletrocussão de animais em áreas verdes, como parques ecológicos. "Além disso, esteticamente, a cidade fica mais bonita sem os fios expostos", destaca o professor.
Já em relação à participação da comunidade na gestão ambiental, Cavalari enfatiza que os(as) cidadãos(ãs) devem atuar como vigilantes das árvores próximas às suas casas e locais de trabalho, zelando por sua manutenção e solicitando ações do poder público quando necessário. Ela lembra que, “no caso de árvores em propriedades particulares, a responsabilidade pela manutenção é do(a) proprietário(a), que deve obter um laudo técnico constatando a necessidade da ação antes de realizar podas ou remoções".
Arborização urbana em tempos de clima extremo
O último levantamento arbóreo de São Paulo, realizado em 2015, apontava a presença de 700 mil árvores nas calçadas da capital paulista. Como forma de mudar a percepção equivocada de que a árvore é um problema para a vida urbana e reconhecer a sua importância para o bem-estar das cidades, a Unifesp oferece, desde 2018, o curso de especialização em Arborização Urbana.
Fruto de uma parceria da universidade com a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a iniciativa visa promover uma melhor formação dos agentes que trabalham diretamente com as árvores da cidade.
“O curso tem como objetivo capacitar com um alto grau de qualidade as pessoas que estão na linha de frente do planejamento e manejo de árvores urbanas. Essa capacitação se faz essencial para que o agente tomador de decisão possa estar baseado em dados científicos e técnicos”, detalha Aline Cavalari, coordenadora da especialização, que já formou quatro turmas e aproximadamente 220 pessoas.
A coordenadora ressalta, além do papel fundamental que as árvores têm na absorção do CO2 e poluentes do ambiente e na troca de vapor da água com o ambiente – reduzindo, assim, as ilhas de calor na cidade e mitigando os efeitos das mudanças climáticas –, os benefícios delas à saúde da população.
“Dentre eles, a melhoria dos quadros de doenças respiratórias e, inclusive, na saúde mental. Existem trabalhos que mostram que pessoas que moram próximo a ambientes arborizados sofrem menos de ansiedade. Vale muito a pena investir na arborização da cidade para que os efeitos no sistema de saúde sejam sentidos no médio e longo prazo”, ela garante.
O curso de especialização em Arborização Urbana se tornou referência na Unifesp por possuir docentes que são referências na área e resultar em trabalhos científicos de alto impacto, bem como promover relatórios técnicos de extrema importância para prefeituras que necessitam de avaliação nos processos relacionados à arborização.
Cidades verdes e resilientes

Parque no centro financeiro de lujiazui, Xangai, na China
O conceito de cidades verdes e resilientes refere-se a espaços urbanos planejados para integrar soluções ecológicas e estruturais que promovam a sustentabilidade e a adaptação às mudanças climáticas. Para isso, é essencial que haja planejamento e ações preventivas de forma contínua.
De acordo com Cavalari, docente do ICAQF/Unifesp - Campus Diadema, para que uma cidade seja considerada verde e resiliente, é fundamental que haja um manejo correto da vegetação, aumentando a quantidade de áreas verdes e promovendo um planejamento adequado.
“Isso não se resume apenas ao plantio de árvores, mas envolve ações como o uso de calçamento permeável, solo estruturado, canteiros com dimensões adequadas para o plantio, calçadas largas e outras medidas descritas nos planos municipais de arborização. Essas iniciativas ajudam a reduzir problemas como alagamentos, enchentes e a queda de árvores durante tempestades”, ela explica.
Sartorello, professor do IC/Unifesp - Campus Zona Leste, complementa o conceito ao relatar que uma cidade verde e resiliente deve possuir grandes áreas verdes bem distribuídas, incluindo parques naturais, corredores ecológicos e rios com matas ciliares preservadas.
Ademais, de acordo com ele, a resiliência na Ecologia está relacionada à capacidade de um sistema natural de retornar ao seu estado original após sofrer algum impacto. “O problema é que a maioria das grandes cidades brasileiras não possuem estruturas naturais preservadas ou mesmo planejadas por falta de direcionamento para isso”, pondera.
Futuro sombrioDe acordo com o caderno técnico 2024: o ano mais quente da história, se as emissões continuarem a crescer, levando a um aumento da temperatura global superior a 4°C até o ano de 2100, os registros de desastres no Brasil podem alcançar: • 138.921 ocorrências até 2050 e 598.699 ocorrências até 2100 (mais que 9 vezes o total registrado de 1991 a 2023). Já os prejuízos econômicos causados por desastres climáticos no país têm aumentado significativamente ao longo das últimas décadas: de 1995 e 2023 foram reportados prejuízos no valor de R$ 547,2 bilhões. Se a temperatura global ultrapassar 4°C, os prejuízos podem crescer significativamente, atingindo: • R$1,77 trilhões até 2050 e R$8,20 trilhões até 2100 (15 vezes o total registrado nas últimas 3 décadas). |
Capacidade climática dos municípios brasileiros
As cidades brasileiras enfrentam desafios climáticos distintos, variando de acordo com suas características geográficas e urbanas. Uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Políticas Públicas Internacionais (Laboppi), da Unifesp, abordou a adoção de planos de ação climática por parte dos municípios brasileiros. Embora o trabalho não tenha avaliado esses planos, foi feito um estudo de caso sobre a cidade de São Paulo e sua relação com políticas climáticas globais, como o Acordo de Paris.
“O plano de ação climática de São Paulo prevê a substituição gradual da frota de ônibus municipais por veículos zero emissão, com a meta de 50% até 2028 e 100% até 2038. Inclui também medidas como a utilização de soluções baseadas na natureza para obras de infraestrutura e drenagem, visando reduzir alagamentos. No entanto, o plano apresenta mecanismos limitados de inclusão da participação social no processo de decisão das políticas climáticas”, revela Osmany Porto de Oliveira, professor do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen/Unifesp) - Campus Osasco, e coordenador do Laboppi
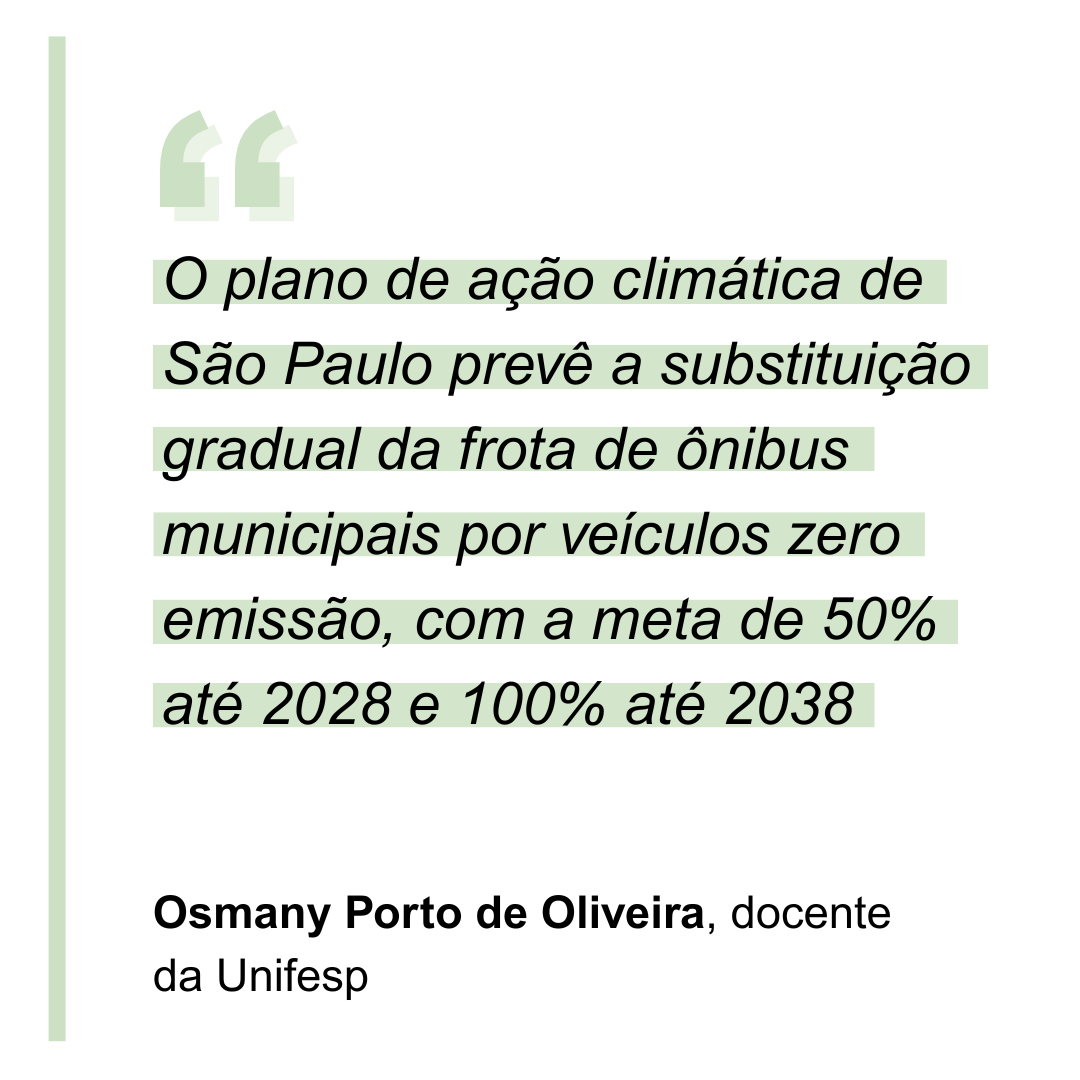
Em relação aos municípios menores, com até 100 mil habitantes, a pesquisa apontou que uma parte significativa ainda não possui planos de ação climática. Contudo, atenta o docente, houve um crescimento na elaboração desses planos nos últimos anos, possivelmente impulsionado por organizações que defendem a causa do clima e pela maior visibilidade dada aos eventos climáticos extremos.
O processo de elaboração dos planos passa por um diagnóstico detalhado da situação climática local, incluindo um inventário de emissões de gases de efeito estufa. Como nem todas as cidades possuem capacidade técnica para conduzir esses estudos, muitas buscam apoio de organizações não governamentais especializadas, as quais oferecem metodologias padronizadas internacionalmente, tais como World Resources Institute (WRI), Iclei - Governos Locais pela Sustentabilidade e C40 Cidades.
Outro desafio identificado no trabalho é a baixa participação dos municípios brasileiros nas conferências da ONU sobre mudanças climáticas. Em Dubai, na COP28, representantes de 100 municípios foram registrados. Esse número foi bem menor na COP29, em Baku, quando estiveram presentes representantes de apenas 29 cidades.
Geralmente, explica o pesquisador, essas cúpulas são focadas nas discussões entre representantes de governos nacionais e organizações internacionais, com espaço reduzido para a participação de governos subnacionais. A pesquisa apontou que os municípios brasileiros que participaram da COP28 estavam, em sua maioria, vinculados a organizações transnacionais, como Iclei, C40, ou redes nacionais, como a Frente Nacional de Prefeitos.
A presença nas COPs também está relacionada à estrutura administrativa dos municípios. Muitos carecem dessa estrutura, dificultando sua inserção no debate global. “Os órgãos de relações internacionais dos municípios são os responsáveis por elaborar a agenda da cidade em eventos desta natureza. Em muitos deles, esses órgãos são pequenos ou inexistentes”, enfatiza Porto de Oliveira.

O ano de 2024 foi o mais quente da história; ondas de calor tornaram-se cada vez mais frequentes
O protagonismo do Brasil e das universidades na resiliência climática
A 30.ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em novembro deste ano na cidade de Belém (PA), representa uma oportunidade crucial para o Brasil consolidar seu papel no cenário global das discussões ambientais e se tornar protagonista nas soluções para a crise climática.
Entretanto, Ronaldo Christofoletti, professor do IMar/Unifesp - Campus Baixada Santista, e um dos representantes da instituição na COP29, realizada no Azerbaijão em 2024, destaca que, apesar das diferentes gestões governamentais ao longo dos anos, o investimento em pesquisa e inovação continua abaixo do necessário para que o país assuma uma liderança efetiva. "Para ser um protagonista é necessário ter investimento em ciência, tecnologia e inovação, mas os dados mostram que o investimento nessas áreas no Brasil é abaixo do que deveria ser", afirma.
Dentro desse contexto, as universidades desempenham um papel central na construção de soluções sustentáveis e na adaptação das cidades aos desafios climáticos. Durante a pandemia de covid-19 a ciência foi fundamental para salvar vidas, e essa mesma abordagem, baseada no conhecimento acadêmico, pode ser aplicada na busca por resiliência climática. Isso inclui desenvolver estratégias para minimizar os impactos dos eventos extremos, como enchentes e ondas de calor, além de promover adaptações urbanas baseadas na natureza.
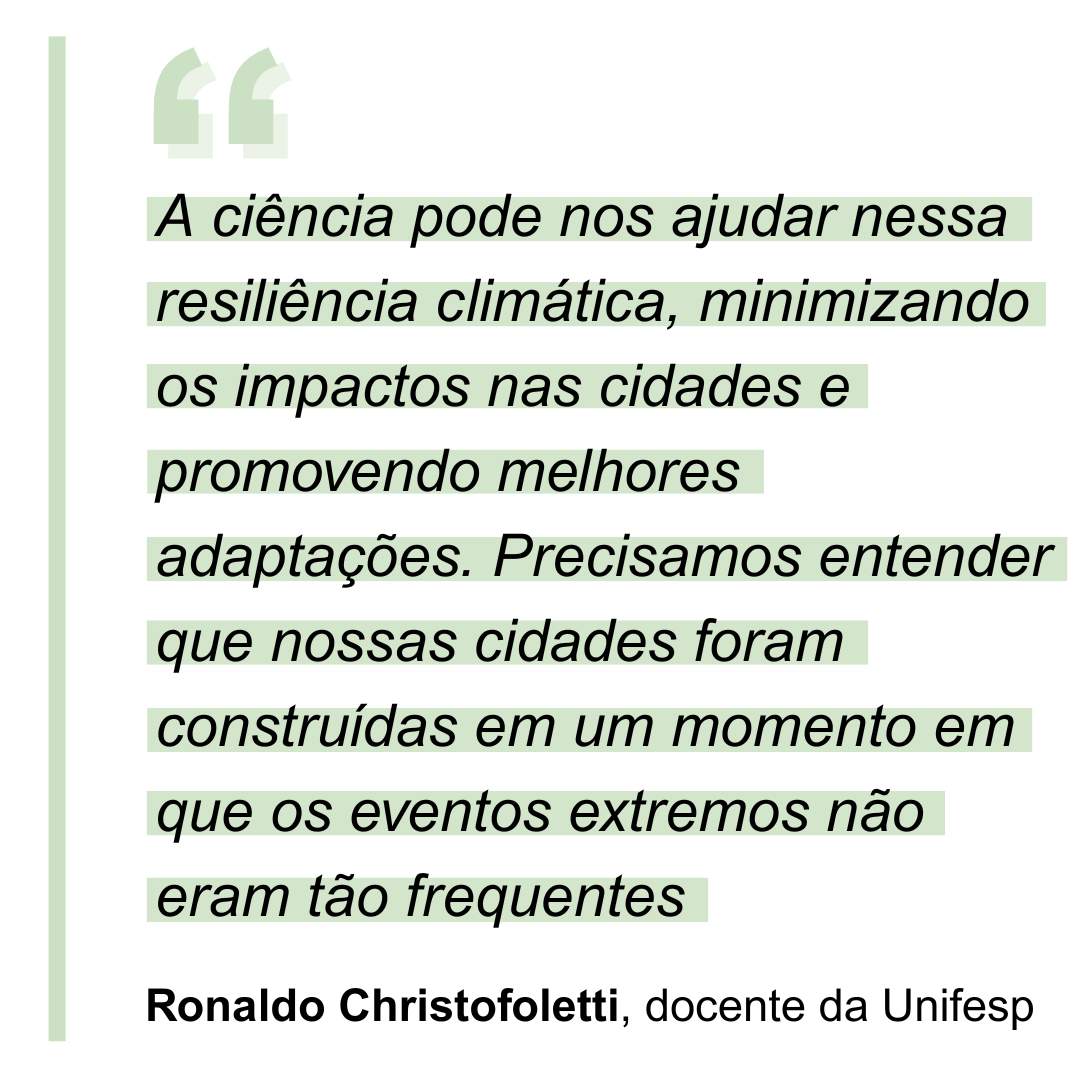
"As universidades têm um papel central nessa questão. A ciência pode nos ajudar nessa resiliência climática, minimizando os impactos nas cidades e promovendo melhores adaptações. Precisamos entender que nossas cidades foram construídas em um momento em que os eventos extremos não eram tão frequentes. Agora temos desafios concretos como pouca arborização e sistemas de drenagem inadequados. As soluções para esses problemas devem vir da ciência", ele reforça.
Assim, é fundamental que as universidades direcionem seus esforços para pesquisas aplicadas que respondam diretamente às demandas sociais e ambientais. A coprodução do conhecimento, envolvendo gestores públicos e sociedade civil desde a formulação das perguntas científicas, segundo o docente, é uma abordagem essencial para garantir que os resultados acadêmicos sejam efetivamente utilizados na construção de políticas públicas.
O docente ressalta que esse modelo já está sendo incentivado por órgãos de fomento à pesquisa, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que têm incluído em seus editais a exigência de participação de usuários(as) da ciência no desenvolvimento dos projetos. No entanto, ele alerta que nem todas as universidades operam dessa forma, sendo necessário um esforço maior para garantir que a produção acadêmica vá além das publicações científicas e seja disseminada de maneira acessível para a sociedade.
"As universidades precisam garantir uma ciência atual, baseada na coprodução desde o início do projeto até a disseminação dos resultados. A pesquisa deve ser acessível e utilizável pela sociedade, ultrapassando os limites dos artigos científicos. Precisamos comunicar os resultados de formas mais diversas para que a ciência cumpra seu papel social", conclui Christofoletti.